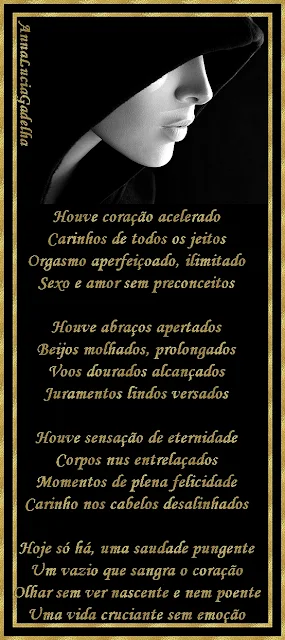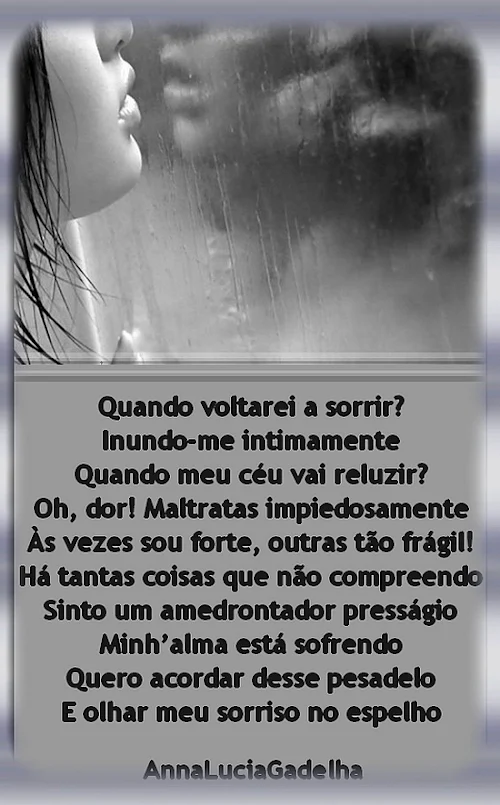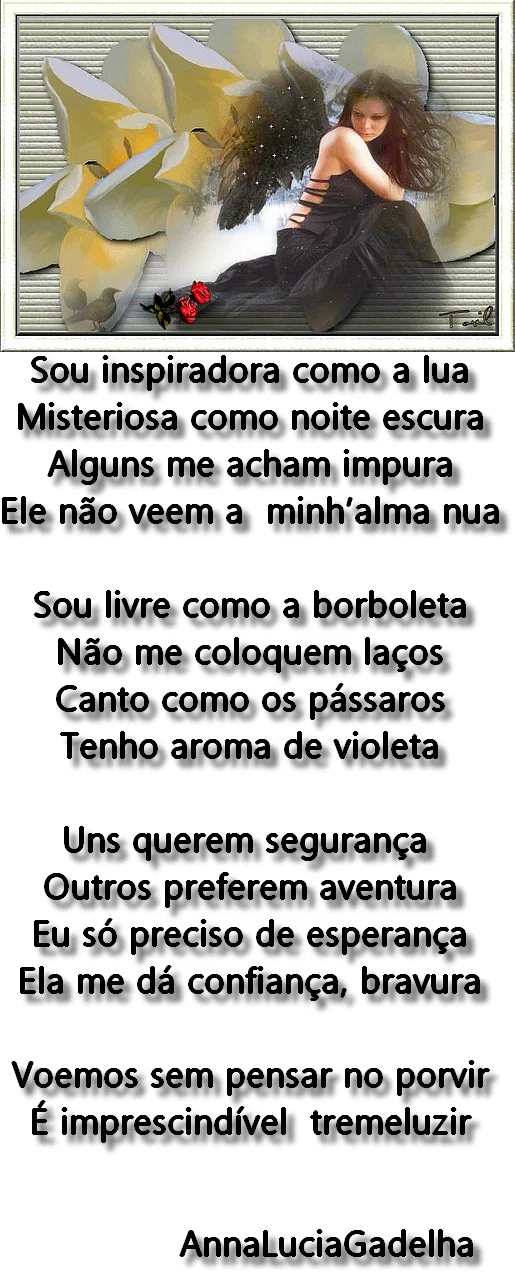Superficialidade da Imagem
“Rosto não é alma, corpo não é existência.” Esta sentença, breve em sua tessitura, é vasta em sua ressonância. Tal como um aforismo lapidado na pedra do pensamento, ela nos obriga a suspender a ilusão dos sentidos e a questionar a lógica que rege o nosso tempo, um tempo em que a máscara vale mais que o rosto e a superfície mais que a profundidade. Na civilização da imagem, o parecer eclipsa o ser, e a essência é relegada ao esquecimento, como se a interioridade não passasse de um detalhe supérfluo diante da tirania da forma.
Vivemos em meio a uma idolatria da visibilidade. As redes sociais, templos modernos dessa devoção, erguem altares luminosos onde se oferecem corpos polidos, rostos filtrados e existências reduzidas a instantâneos cintilantes. O Instagram, o TikTok e tantas outras vitrines não são apenas espaços de comunicação, mas arenas de exibição, em que cada gesto é calculado, cada sorriso é editado, cada imperfeição é exorcizada. A alma, silenciosa e desfigurada, esconde-se na sombra do espetáculo digital, e a vida, em sua densidade, é transformada em mercadoria de segundos.
A obsessão pelos padrões estéticos, ditados por uma indústria que fabrica miragens, ilustra a tragédia de nosso tempo. Na busca por uma beleza impossível, homens e mulheres submetem seus corpos ao bisturi, às dietas cruéis, ao suplício das comparações intermináveis. Como se a dignidade da vida pudesse caber na proporção simétrica de um rosto ou na magreza esquelética de uma silhueta. Essa rendição ao olhar alheio não apenas distorce a carne, mas mutila a autenticidade. E assim a essência, que pulsa na interioridade, é sacrificada no altar da idolatria estética
A literatura, sempre vigilante, ergueu advertências contra este culto ao efêmero. Em “O Retrato de Dorian Gray”, Oscar Wilde nos mostra a farsa de uma beleza imortal que apodrece a alma. O quadro oculto, onde se grava a corrupção interior do protagonista, é metáfora do destino humano: ninguém pode eternamente mascarar a verdade do ser, pois o tempo, com sua ironia inexorável, sempre expõe as marcas invisíveis da corrupção moral. Já Kafka, em “A Metamorfose”, nos confronta com o avesso da lógica da aparência. Gregor Samsa, metamorfoseado em criatura abjeta, conserva no entanto sua humanidade no íntimo do pensamento e da dor. Ali, Kafka nos obriga a perguntar: onde reside o humano? Na pele visível ou na consciência que persiste sob a deformidade?
Também a filosofia nos oferece clarividência. Sartre, em “O Ser e o Nada”, sustenta que a existência precede a essência, e que o homem é responsável por constituir a si mesmo além de toda aparência. Mas a modernidade, submissa ao olhar espetacular, parece inverter tal máxima, como se a essência devesse nascer da imagem e como se a identidade fosse apenas reflexo do que os outros percebem. Nesta inversão, o sujeito abdica da sua profundidade e reduz-se a máscara, a reflexo, a ilusão.
“Rosto não é alma, corpo não é existência.” Esta máxima, que ressoa como sentença filosófica e advertência espiritual, deveria ser lida como um convite à revolta contra a superficialidade. Não contra a beleza, que é um dom do sensível, mas contra a mentira da aparência erigida em verdade última. Pois se cedemos à fascinação da fachada, perdemos o acesso ao subterrâneo da vida, lá onde o humano se revela em sua grandeza e em sua miséria. A tarefa, portanto, é de reconciliação: resgatar a interioridade do esquecimento, devolver à alma o lugar que lhe cabe, lembrar que não são os contornos do rosto que nos definem, mas as profundezas invisíveis onde o ser se faz e refaz.
Afinal, se o mundo insiste em nos julgar pela superfície, cabe a nós recordar que é a alma, e não o rosto, que sustenta a dignidade do existir.
Oliver Harden